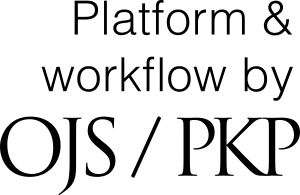Dinâmicas de campos, redes e políticas públicas na produção e pós-produção do cinema brasileiro
DOI:
https://doi.org/10.9771/pcr.v18i1.64094Palavras-chave:
Cinema brasileiro, Análise de redes sociais, Políticas culturais, Produção cinematográficaResumo
Com o objetivo de compreender a influência do Estado na consolidação do campo da produção cinematográfica brasileira, por meio de políticas públicas culturais, o estudo apresenta as mudanças ocorridas no setor entre 1995 a 2018 por meio da análise das redes formadas pelas empresas responsáveis pelos processos de produção e pós-produção de áudio e imagem. Para tanto, articula as teorias de campos e a análise de redes sociais, trazendo ainda para esta a influência do Estado em suas configurações. Assim, faz-se possível entender o setor cinematográfico brasileiro enquanto um conjunto de campos interconectados, compostos pelas interações entre empresas especializadas, e como se alteraram com as políticas públicas culturais federais.
Downloads
Referências
ABDAL, A. Contribuição à crítica da Política Industrial no Brasil entre 2004 e 2014. Novos Estudos - CEBRAP, v. 38, n. 2, p. 437–456, 2019.
AMANCIO, T. Pacto cinema-Estado: os anos Embrafilme. Alceu, v. 8, n. 16, p. 173–184, 2007.
BAHIA, L. Discursos, políticas e ações: processos de industrialização do campo cinematográfico brasileiro. São Paulo: Itaú Cultural, 2012.
BAN, C. Brazil’s liberal neo-developmentalism: New paradigm or edited orthodoxy? Review of International Political Economy, v. 20, n. 2, p. 298–331, 2013.
BEHRENS, R. et al. Leveraging analytics to produce compelling and profitable film content. Journal of Cultural Economics, v. 45, n. 2, p. 171–211, 2021.
BORGATTI, S. P.; EVERETT, M. G.; JOHNSON, J. C. Analyzing Social Networks. London: SAGE Publications, 2013.
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007.
BURT, R. S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press, 1992. v. 36
BUTCHER, P. A dona da história: origens da Globo Filmes e seu impacto no audiovisual brasileiro. [s.l: s.n.].
CANDIDO, S. E. A.; SACOMANO NETO, M.; CÔRTES, M. R. Campos e redes na análise das organizações: explorando distinções teóricas e complementaridades metodológicas. Revista Eletrônica Gestão & Sociedade, v. 924, p. 1073–1097, 2015.
CANEDO, D. P.; RANAIVOSON, H.; LOIOLA, E. Existe uma indústria cinematográfica do Mercosul? Uma análise da rede social de produção do cinema regional. III Encontro Baiano de Estudos em Cultura. Anais...2010.
CANO, W. Brasil - construção e desconstrução do desenvolvimento. Economia e Sociedade, v. 26, n. 2, p. 265–302, ago. 2017.
CARREIRO, R. A pós-produção de som no audiovisual brasileiro. João Pessoa: Marca da Fantasia, 2019.
CHALUPE, H. O filme nas telas: a distribuição do cinema nacional. São Paulo: Ecofalante, 2010.
CIVIL, C. Medida provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. Brasil, 2001.
COSTA, M. R. DA. Cinema, ao fim e ao cabo. Primeiras impressões sobre o impacto da Lei 12.485/11, a lei da TV a cabo. Rebeca - Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, v. 4, n. 1, p. 356–380, 2016.
DE NOOY, W. Fields and networks: Correspondence analysis and social network analysis in the framework of field theory. Poetics, v. 31, n. 5–6, p. 305–327, 2003.
DE TONI, J. Novos arranjos institucionais na política industrial do governo Lula: a força das novas ideias e dos empreendedores políticos. [s.l: s.n.].
DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. A gaiola de ferro revisitada: isomorfismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 45, n. 2, p. 74–89, 2005.
DOBBIN, F. Forging industril policy: The United States, Britain, and France in the railway age. New York: Cambridge University Press, 1994.
FIGUEIREDO, J. L. DE. O sistema produtivo da indústria do cinema brasileiro e sua dispersão concentrada. Revista Gestão e Desenvolvimento, v. 16, n. 2, p. 62, 28 maio 2019.
FLIGSTEIN, N. The architecture of markets: An economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. Princeton: Princeton University Press, 2002.
FLIGSTEIN, N.; MCADAM, D. A theory of fields. New York: Oxford University Press, 2012.
GIMENEZ, F. A. P. O mercado cinematográfico brasileiro: um campo pouco explorado pelos estudos organizacionais. Revista Interdisciplinar de Marketing, v. 6, n. 1, p. 73–80, 2016.
GNYAWALI, D. R.; MADHAVAN, R. Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective. The Academy of Management Review, v. 26, n. 3, p. 431, 2001.
GRANOVETTER, M. Economic Action and Social Structure : The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, v. 91, n. 3, p. 481–510, 1985.
GRANOVETTER, M. Ação econômica e estrutura social: o problema da imersão. In: MARTES, A. C. B. (Ed.). Redes e Sociologia Econômica. São Carlos: EdUFSCar, 2014. p. 31–68.
GRANOVETTER, M. Society and Economy: Framework and Principles. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2017.
IKEDA, M. G. Cinema Brasileiro a partir da Retomada: aspectos econômicos e políticos. São Paulo: Summus editorial, 2015.
KIRSCHBAUM, C. Renascenca da indústria brasileira de filmes: destinos entrelaçados? In: MARTES, A. C. B. (Ed.). Redes e Sociologia Econômica. São Carlos: EdUFSCar, 2014. p. 309–335.
LOIOLA, E.; LIMA, C. L. C. Redes sociais na produção de filmes da “Novíssima Onda Baiana.” Políticas Culturais em Revista, v. 1, n. 2, p. 88–123, 2009.
MANNING, S. The rise of project network organizations: Building core teams and flexible partner pools for interorganizational projects. Research Policy, v. 46, n. 8, p. 1399–1415, 2017.
MARSON, M. Cinema e políticas de Estado: da Embrafilme à Ancine. São Paulo: Editora Escrituras, 2009.
MICHEL, R. C.; AVELLAR, A. P. Indústria cinematográfica brasileira de 1995 a 2012: estrutura de mercado e políticas públicas. Nova Economia, v. 24, n. 3, p. 491–514, dez. 2014.
NAGIB, L. O Cinema da Retomada: depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. São Paulo: Editora 34, 2002.
ROCHA, D. T. DA et al. Mapeando as relações de coprodução e codistribuição no cinema brasileiro: uma análise pela ótica da teoria de redes. Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, v. 41, n. 1, p. 41–61, 2018.
SACOMANO NETO, M.; TRUZZI, O. M. S. Configurações estruturais e relacionais da rede de fornecedores: uma resenha compreensiva. Revista da Administração, v. 39, n. 3, p. 255–263, 2004.
SOUSA, A. P. O cinema que não se vê: a guerra política por trás da produção de filmes brasileiros no século XXI. [s.l.] Fino Traço Editora, 2023.
STORPER, M. The transition to flexible specialisation in the US film industry: external economice the division of labour, and the crossing of industrial divides. Cambridge Journal of Economics, v. 13, p. 273–305, jun. 1989.
TAÑO, D. R.; TORKOMIAN, A. L. V. Isomorfismo mimético no cinema brasileiro: o modelo norte-americano de governança e a frustração da indústria nacional. Comunicação Mídia e Consumo, v. 17, n. 49, p. 367–388, 2020.
WHITE, H. C.; BOORMAN, S. A.; BREIGER, R. L. Social structure from multiple networks. I. Blockmodels of roles and positions. American Journal of Sociology, v. 81, n. 4, p. 730–780, 1976.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Políticas Culturais em Revista

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.